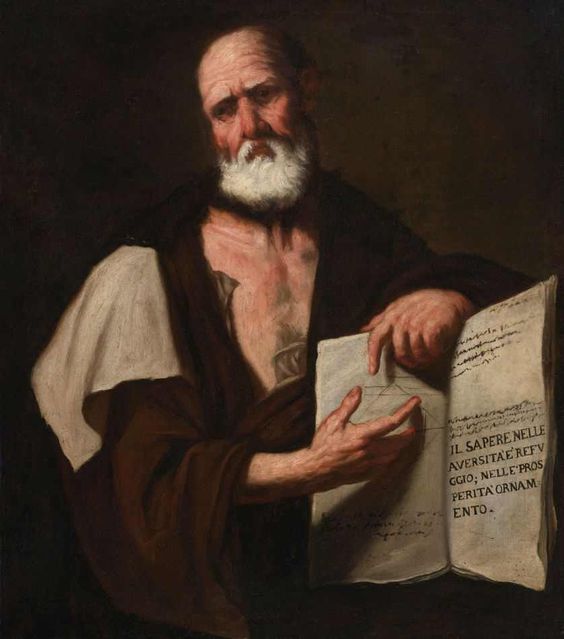Peter Coffey, Enciclopédia Católica.
A indução é o processo mental consciente pelo qual passamos da percepção de fenômenos particulares (coisas e eventos) ao conhecimento de verdades gerais. A percepção sensorial é expressa logicamente no julgamento singular ou particular (simbolicamente: “Este S é P”, “Alguns S’s são P”, “Se S é M, pode ser P”); a verdade geral, no julgamento universal (“Todo S é P”, “S como tal é P”, “Se S é M, é P”).
Indução e dedução
O raciocínio dedutivo sempre parte de pelo menos uma premissa universal, trazendo sob o princípio incorporado nela todas as aplicações desta; por isso é chamado de raciocínio sintético. Porém, de maior importância que esse é o processo pelo qual, partindo do indivíduo, desconectamos os dados da experiência sensorial, atingimos um certo conhecimento de julgamentos que são necessariamente verdadeiros e, portanto, universalmente válidos em referência a esses dados. Os julgamentos universais são de duas classes. Alguns são vistos intuitivamente como necessariamente verdadeiros assim que a mente compreende o significado das idéias envolvidas (chamadas “analíticas”, “verbais”, “explicativas”, “essenciais”, “in materiâ necessariâ” etc.) , ou são inferidos dedutivamente de tais julgamentos (como nas ciências matemáticas puras, por exemplo). Outros são vistos como verdadeiros somente pela experiência e por meio da experiência (denominada “sintética”, “real”, “ampliativa”, “acidental”, ” in materiâ contingenti “, etc.). Chegamos ao primeiro (por exemplo,” O todo é maior que sua parte “) apenas abstraindo os conceitos (” todo “,” maior “,” parte “) da experiência sensorial, vendo imediatamente a conexão necessária entre esses conceitos abstratos e a generalização imediata dessa relação.Este processo pode ser chamado de indução em um sentido amplo e impróprio da palavra, mas é apenas com a segunda classe de julgamentos universais, generalizações baseadas na experiência, que a indução propriamente dita lidar.
Indução científica
Embora a indução seja igualmente aplicável em todos os departamentos de generalização a partir da experiência, tanto no histórico e antropológico quanto nas ciências físicas, ainda é em sua aplicação à descoberta das causas e leis dos fenômenos físicos, animados e inanimados, que presta-se mais prontamente à análise lógica. Por isso, é comum os livros lógicos falarem de indução “física”. O processo é frequentemente descrito como um processo raciocinativo ou inferencial e, desse ponto de vista, é contrastado com o raciocínio dedutivo. Mas se, por inferência lógica, devemos entender a passagem consciente da mente de um ou mais julgamentos como premissas para outro novo julgamento neles envolvido como conclusão, então essa certamente não é a essência do processo indutivo, embora haja realmente etapas raciocinativas envolvidas neste último, subsidiário de sua função essencial, que é a descoberta e a prova de alguma verdade universal ou lei causal dos fenômenos. A indução é realmente um método lógico que envolve muitas etapas e processos além do passo central da generalização; e se opõe à dedução apenas no sentido de que aborda a realidade do lado do concreto e do indivíduo, enquanto a dedução o faz do lado do abstrato e do universal.
O primeiro desses passos é a observação de algum fato ou fatos da experiência sensorial, geralmente uma coexistência repetida no espaço ou sequência no tempo de certas coisas ou eventos. Isso naturalmente nos leva a procurar sua explicação, ou seja, suas causas, a combinação total de agências próximas às quais é devida, a lei segundo a qual essas causas garantem sua recorrência regular, partindo do princípio de que as causas que operam no universo físico são tais que, agindo em circunstâncias semelhantes, sempre produzirão resultados semelhantes. A lógica prescreve instruções práticas para nos guiar na observação, na descoberta precisa do que acompanha ou segue o que, ao eliminar todas as circunstâncias concomitantes meramente acidentais de um fenômeno, de modo a reter para análise apenas aquelas que provavelmente são causais, como distração da casualidade, conectado ao evento sob investigação.
Em seguida, vem o estágio em que é feita a generalização empírica experimental; ocorre a sugestão de que a conexão observada (entre S e P) possa ser universal no espaço e no tempo; pode ser uma conexão causal natural, cujo fundamento reside em uma agência ou grupo de agências suspeitas operando na experiência sensorial total que nos fornece os elementos sob investigação (S e P). Esta é a formação de uma hipótese científica. Toda descoberta de leis de natureza física é feita por meio de hipóteses; e a descoberta precede a prova; devemos suspeitar e adivinhar a lei causal que explica o fenômeno antes de podermos verificar ou estabelecer a lei. Uma hipótese é concebida como um julgamento abstrato: “Se S é M, é P”, que nós – contando com a uniformidade da natureza – generalizamos formalmente imediatamente: “Sempre que e onde S é M, é P”, uma generalização que deve ser testado para ver se também é materialmente preciso. Uma hipótese é, portanto, uma suposição provisória sobre a causa de um fenômeno, feita com o objetivo de verificar a causa real deste último. A lógica não pode, é claro, sugerir-nos que suposição específica devemos fazer em um determinado caso. Isto é para o próprio investigador. É aqui que a imaginação científica, originalidade e genialidade entram em cena. Mas a lógica indica de uma maneira geral as fontes das quais as hipóteses são geralmente extraídas e, mais especialmente, estabelece condições às quais uma hipótese deve estar em conformidade para que seja de algum valor científico. A fonte mais fértil de hipóteses é a observação de analogias, ou seja, semelhanças entre o fenômeno sob investigação e outros fenômenos cujas causas já são parcial ou totalmente conhecidas. Quando o estado de nosso conhecimento não nos permite adivinhar a causa do fenômeno, devemos nos contentar com uma hipótese de trabalho que talvez seja apenas uma descrição dos eventos observados. Uma hipótese que pretende ser explicativa deve ser consistente consigo mesma, livre de conflitos evidentes e irremediáveis com fatos e leis conhecidas e capaz de verificação. Esta última condição será cumprida apenas quando a hipótese for baseada em alguma analogia com causas conhecidas. Se a suposta causa fosse totalmente única e sui generis, não poderíamos formar conjecturas sobre como funcionaria em um determinado conjunto de circunstâncias, concebível ou concebível, e, portanto, nunca poderíamos detectar se realmente estava lá ou não. Uma hipótese pode ser legítima e útil na ciência, embora possa se mostrar imprecisa; poucas hipóteses são totalmente precisas no início. Pode até ter que ser rejeitado completamente como refutado depois de um tempo e ainda ter servido para levar a outras descobertas ou ter colocado os investigadores no caminho certo. Ou, como é mais geralmente o caso, pode ser necessário que seja moldado, modificado, limitado ou estendido durante a verificação por meio de observação e experimento adicionais.
É para ajudar o investigador neste trabalho de analisar os fatos da experiência sensorial, a fim de descobrir e provar conexões causais ou leis naturais através da formação e verificação de hipóteses, que os lógicos modernos lidaram tão exaustivamente com os “cânones da indução indutiva”. “, ou” métodos experimentais “, delineados por Herschel em seu” Discurso Preliminar sobre o Estudo da Filosofia Natural “e popularizados por John Stuart Mill em seu” Sistema de Lógica “. Esses cânones – de concordância, diferença, variações concomitantes, resíduos, concordância positiva e negativa, concordância combinada e diferença – apenas formulam várias maneiras de aplicar à análise de fenômenos o princípio de eliminar o que é casual ou acidental, para deixar por trás do que é causal ou essencial; todos eles se baseiam no princípio de que tudo o que pode ser eliminado de um conjunto de coisas ou eventos sem eliminar o fenômeno sob investigação não está conectado causalmente com este último, e tudo o que não pode ser eliminado sem também eliminar o fenômeno está relacionado causalmente isto. Declarando uma hipótese nos símbolos “Se S é M, é P”, temos em M a suposta causa real ou objetiva de P, e também o fundamento mental ou lógico para predizer P de S. Testamos ou verificamos essa hipótese. procurando estabelecer, por meio de uma série de experiências ou observações positivas, que sempre que e onde M ocorre ocorre P; que M precisa de P; e, em segundo lugar, através de uma série de experimentos ou observações negativas, que onde e quando M está ausente, P também é indispensável para M, que é a única causa possível de P. Se esses testes podem ser aplicados com sucesso, a hipótese é totalmente verificado. A suposta causa do fenômeno é certamente a real, se puder ser demonstrada indispensável, no sentido de que o fenômeno não pode ocorrer na sua ausência, e necessária, no sentido de que o fenômeno deve ocorrer quando estiver presente e em operação. Esse tipo de verificação (geralmente apenas imperfeitamente e às vezes nem um pouco atingível) é o objetivo do cientista. Estabelece as duas proposições “Se S é M, é P” e “Se S não é M, não é P” – este último é equivalente ao recíproco do primeiro (a “Se S é P, é M”). ) Sempre que atingimos esse ideal (do hipotético recíproco), podemos deduzir do conseqüente ao antecedente, do efeito à causa, com a mesma confiabilidade que vice-versa. Mas em que faixa de fenômenos devemos levar adiante nossas observações e experimentos negativos, a fim de garantir que nossa hipótese ofereça a única explicação possível do fenômeno, que M seja a única causa no universo capaz de produzir P – que, por exemplo, a necessidade que afligia os primeiros cristãos de garantir um lugar de refúgio para si mesmos e de sepultamento para seus mortos poderia explicar a formação das catacumbas romanas como as encontramos? Obviamente, isso é assunto da prudência do investigador e, aliás, indica uma limitação da certeza que podemos alcançar por indução. O que é conhecido como instância crucial ou experimento, se ocorrer, nos permitirá sumariar sumariamente uma das duas hipóteses conflitantes como errôneas, estabelecendo assim a outra, desde que essa outra seja a única concebível nas circunstâncias – ou seja, o único razoavelmente sugerido pelos fatos; pois quase não há hipótese para a qual alguma alternativa fantasiosa possa não ser imaginada; e aqui novamente a prudência deve guiar o investigador na formação de sua convicção. Ele deve, por exemplo, suspender seu consentimento com a hipótese física de um éter universal, porque a alternativa de actio in distans não é, de modo algum, evidentemente uma impossibilidade intrínseca?
Quando uma hipótese não pode ser rigorosamente verificada através do estabelecimento de um julgamento universal recíproco, ela pode, no entanto, aumentar em probabilidade proporcionalmente ao número e à importância de outros fenômenos cognatos pelos quais se considera capaz de explicar, além do que foi inventado. explicar. Uma hipótese é altamente provável se predizer ou explicar fenômenos cognatos; isso é chamado pela consiliência de induções de Whewell). Esse processo de verificação ocorre de alguma forma nestas linhas: “Se M é uma causa realmente operativa, em tais e tais circunstâncias, deve produzir ou explicar o efeito X, e em outras, Y e assim por diante; mas (por observação ou experimento, concluímos que) nessas circunstâncias, esses efeitos são produzidos ou explicados por ele; portanto, provavelmente são devidos a M. ” Eles provavelmente são apenas atribuíveis, porque o argumento não produz formalmente uma certa conclusão; mas quanto mais ampliamos nossa hipótese, e quanto maiores os grupos de fenômenos que se julga competente para explicar, mais firme nossa convicção cresce naturalmente, até alcançar a certeza prática ou moral que atingimos na verdadeira lei dos fenômenos examinados. Assim, por exemplo, a hipótese da gravitação de Newton foi gradualmente ampliada por ele, a fim de explicar os movimentos da lua e das marés, os movimentos dos satélites ao redor dos planetas e destes ao redor do sol, até que finalmente se tornou aplicável. em todo o universo material. O objetivo do processo indutivo é explicar fatos isolados, colocando-os sob alguma lei, ou seja, descobrindo todas as causas à cooperação a que são devidas e estabelecendo aquelas proposições gerais chamadas leis da natureza que incorporam e expressam a constante modo de operação dessas causas. É assim que transformamos as seqüências observadas da experiência sensorial em consequências entendidas ou explicadas intelectualmente de causa e efeito. A explicação científica também visa reduzir essas leis separadas e mais estreitas a leis superiores e mais amplas, mostrando-as como aplicações parciais das últimas, obedecendo assim à tendência inata da mente humana de sintetizar e unificar, na medida do possível, a variedade. e dados caóticos da experiência sensorial.
Fundamentos racionais e escopo de indução
A generalização indutiva pela qual, após examinar um número limitado de instâncias de alguma conexão ou modo de ocorrência de fenômenos, afirmamos que essa conexão, sendo natural, sempre se repetirá da mesma maneira, é uma passagem mental de particular para geral, de o que está dentro da experiência e o que está além da experiência. Sua legitimidade precisa de justificativa. Baseia-se na suposição de alguns princípios metafísicos importantes. Um deles é o princípio da causalidade: “O que quer que aconteça tem uma causa”. Como, por causa de uma coisa ou evento, queremos dizer o que contribui positivamente para seu ser ou acontecimento, o princípio da causalidade é claramente um princípio analítico auto-evidente, necessário e analítico. E é obviamente pressuposto em toda investigação indutiva: não devemos procurar as causas dos fenômenos, se acreditamos possível que eles possam ser ou acontecer sem causas. Um princípio objetivo um tanto mais amplo que esse é o princípio da razão suficiente: “Nada real pode ser como é sem uma razão suficiente para ser assim”; e, aplicado à ordem subjetiva, mental ou lógica que o princípio afirma: “Nenhum julgamento pode ser verdadeiro sem uma razão suficiente para sua verdade”. Este princípio também é pressuposto na indução; não devemos procurar verdades gerais como explicação ou razão para os julgamentos individuais que incorporam nossa experiência sensorial, se não acreditamos ser possível encontrar no primeiro uma explicação racional do segundo. Mas há ainda outro princípio, mais diretamente assumido, envolvido na generalização indutiva, viz. o princípio da uniformidade da natureza: “Causas naturais ou não-livres, isto é, as causas operantes no universo físico, à parte do livre-arbítrio do homem, quando agem em circunstâncias semelhantes sempre e em toda parte produzem resultados semelhantes”; “As causas físicas agem de maneira uniforme.”
Como o livre arbítrio humano é excluído do escopo deste Princípio, segue-se que os fenômenos que resultam diretamente da livre atividade do homem não fornecem dados para indução estrita. Seria, no entanto, um erro concluir que a influência do livre arbítrio torna impossível toda a ciência dos fenômenos humanos e sociais. Não é esse o caso. Pois mesmo esses fenômenos têm uma medida muito grande de uniformidade, dependendo em grande parte, como eles têm, de todo um grupo de influências e agências que não o livre-arbítrio: caráter racial e nacional, hábitos e ambientes sociais, educação, clima etc. portanto, manifestações de causas e leis estáveis, embora não de leis mecânicas ou físicas, e formam um domínio adequado, embora difícil, para investigação indutiva – difícil, porque as influências operativas estão ocultas sob uma massa de dados caóticos que devem ser preparados por estatísticas e médias baseadas em observações e comparações meticulosas e duradouras.
No domínio da indução física propriamente dito, temos a ver apenas com causas naturais ou não-livres. Acima disso, portanto, surge a pergunta: com que direito assumimos a verdade universal do princípio da uniformidade, como acabamos de afirmar, ou que tipo ou grau de certeza isso garante às nossas generalizações indutivas? Obviamente, isso não pode nos dar um grau mais alto de certeza sobre o último do que sobre o próprio princípio. E essa última certeza será determinada pelos fundamentos e pela origem de nossa crença no princípio. Como, então, chegamos a formular conscientemente para nós mesmos e concordamos com a proposição geral de que as causas que operam no universo físico ao nosso redor são de tal ordem que são determinadas cada uma por uma linha de ação, que não agirá caprichosamente, mas regularmente, uniformemente, sempre da mesma maneira em circunstâncias semelhantes. A resposta é que, por nossa experiência contínua da ordem, regularidade e uniformidade do curso natural da natureza, gradualmente passamos a acreditar que as causas físicas têm por natureza uma linha de ação fixa e determinada, e esperamos que, a menos que algo imprevisto e extraordinário interferir com eles, eles agem além da nossa experiência como eles fazem dentro dela. Mill está certo ao dizer que o princípio é uma generalização gradual da experiência e, além disso, que ele não precisa ser conscientemente apreendido em toda a sua plenitude anterior a qualquer ato particular de generalização indutiva. Mas isso não é suficiente; pois, se a tomamos parcial ou totalmente em um determinado caso, a questão ainda permanece: qual é a nossa justificativa racional final para estendê-la além dos limites de nossa experiência pessoal real? As respostas dadas a essa pergunta pelos lógicos, como de fato toda a sua exposição do processo indutivo, são tão divergentes e conflitantes quanto suas visões filosóficas gerais sobre a natureza última do universo e de toda a realidade. O fato a ser explicado e justificado é que acreditamos que o mundo fora de nossa experiência pessoal seja parte do mundo dentro de nossa experiência. Mas a filosofia empírica ou positivista, representada por Hume e Mill, torna impossível toda justificação racional dessa crença; pois se não existe mundo fora da experiência; reduz toda a realidade na análise final às atuais sensações reais da consciência do indivíduo; e a alegação de mero costume, mera experiência real de uniformidade, como motivo da crença na uniformidade inexperiente, não considera uma expectativa racional baseada em uma visão racional da natureza da realidade, mas simplesmente um salto cego no escuro. A explicação do idealismo monístico atual, que identificaria as leis dos fenômenos físicos com as leis do pensamento lógico e reduziria toda a realidade a um sistema de relações de pensamento intelectualmente necessárias, não é menos insatisfatória, pois confunde os fenômenos de contingentes existentes. estar com as relações metafísicas entre essências abstratas e possíveis – relações que têm sua base última apenas na natureza do Ser Necessário, o próprio Deus. A resposta da filosofia escolástica é que a justificativa racional final para nossa crença na uniformidade da natureza é nossa convicção fundamentada de que a natureza é obra de um Todo-Sábio Criador e Conservador, que dotou as agências físicas de modos regulares regulares de atividade com os quais Ele não interferirá a menos que seja por milagre por motivos de ordem superior ou moral. A certeza de nossa crença no princípio e em suas aplicações é, portanto, hipotética, física, não absoluta, não metafísica: “Se Deus continua a conservar e concordar com as agências físicas criadas, se Ele não interfere milagrosamente com elas, se nenhuma outra causa desconhecida intervir, essas agências continuarão a agir de maneira uniforme “.
A indução física às vezes investiga as causas constitutivas (“formais” e “materiais”) dos fenômenos (como, por exemplo, em pesquisas químicas e físicas sobre a constituição da matéria), às vezes, em seus propósitos (ou causas “finais”, como em as ciências biológicas); mas principalmente em suas causas eficientes próximas, isto é, o grupo total de agências próximas suficiente e indispensável para a produção de qualquer fenômeno. A essas pesquisas, principalmente, a pesquisa indutiva é restrita, pois as agências que operam no universo físico são tão intimamente entrelaçadas e interdependentes que, se rastrearmos as cadeias de causalidade para fora e para trás de qualquer efeito indefinidamente, deveríamos ver que, de certo modo, todas as agências de alguma maneira remota, no universo, operam na produção de qualquer efeito único. Muita controvérsia foi desnecessariamente importada para a Logic com relação ao conceito de causa. A rejeição da “eficiência” ou “influência positiva” desse conceito e a substituição da “sequência invariável e incondicional” é uma característica do empirismo. Mas não pode ter influência na generalização indutiva sobre a conduta dos fenômenos no espaço e no tempo. Para generalização confiável sobre o último, a única condição objetiva necessária é a uniformidade ou regularidade da ocorrência. O escopo da indução será, no entanto, indevidamente e injustificadamente reduzido se, por causa física, sempre entendermos com Mill algo que é em si um fenômeno, perceptível pelos sentidos, e se devemos evitar toda investigação de causas que não sejam elas mesmas fenômenos sensoriais, mas qualidades ativas enraizadas na natureza das coisas e discerníveis apenas pelo raciocínio intelectual. Sem dúvida, é a pesquisa indutiva para meros antecedentes fenomenais – para massas e energias materiais – e para sua exata medição matemática em termos de trabalho mecânico que as ciências aplicadas devem seus maiores triunfos. Mas, embora a única preocupação do engenheiro seja saber como garantir coexistências e seqüências úteis de massas e movimentos materiais, o homem do pensamento, seja ele físico cientista ou filósofo, se ressentirá com razão de ser proibido pelo positivismo de processar uma investigação adicional sobre o racional por que e por quê dessas ocorrências, nas naturezas e propriedades que somente a razão pode descobrir através desses fenômenos. Os homens sempre e com razão insistirão em induzir indutivamente a veræ causæ, que, embora produzam efeitos perceptíveis pelos sentidos, não são eles mesmos fenômenos. No entanto, quando recuamos nossa investigação sobre condições, causas, origem e constituição de campos cada vez mais amplos de fenômenos, analogias de causas próximas conhecidas – que nos ajudaram em nossas pesquisas mais especializadas – começam a falhar; e assim nossas concepções teóricas mais amplas – sobre átomos, elétrons, éter etc. – devem sempre permanecer hipóteses mais ou menos prováveis, nunca totalmente verificadas. Quando, finalmente, investigamos a origem, a natureza e o destino absolutamente supremos do universo, onde as analogias fracassam por completo, devemos abandonar a indução propriamente dita, que procura comparar e classificar as causas que descobre e recorrer à a posteriori. argumento, que simplesmente deduz, da existência de um efeito, que deve existir uma causa capaz de produzi-la, mas não nos fornece mais informações sobre a natureza dessa causa do que ela deve ter maior perfeição, excelência, ser do que a efeito produzido por ele. Tais, por exemplo, são os argumentos pelos quais provamos a existência de Deus.
Histórico
A indução científica, como acabamos de expor, não era desconhecida de Aristóteles e dos escolásticos medievais. Não é, no entanto, o processo referido por Aristóteles como epagogé e geralmente descrito como o “silogismo indutivo” ou “indução enumerativa”. Este é simplesmente o processo de inferir que o que pode ser atribuído a cada membro de uma classe separadamente pode ser atribuído a toda a classe. Não tem valor científico; pois, quando a enumeração de instâncias é perfeita ou completa, a conclusão não é um universal científico, uma lei geral, mas um mero universal coletivo; e quando a enumeração de indivíduos é imperfeita ou incompleta, a conclusão coletiva é perigosa, mais ou menos provável, mas não certa. Aristóteles estava, contudo, ciente da possibilidade de chegar a uma certa conclusão após uma enumeração incompleta de instâncias, abandonando a mera enumeração e realizando uma análise da natureza das instâncias, como na indução moderna. Ele se refere a esse processo repetidamente sob o nome de empeiría na “Análise posterior” embora ele não tenha investigado as condições sob as quais essa análise produziria certeza. A crença predominante de que os escolásticos medievais tratavam apenas “indução enumerativa” é errônea. Eles também estavam familiarizados com a indução científica, usando os termos experimentum, experientia, para traduzir a empeiría de Aristóteles. Alberto Magno, Duns Scott e St. Tomás de Aquino examinaram-no sem, contudo, tentar tratar das condições de sua aplicação, pela muito boa razão de que o aparato para pesquisa científica não existia em seus dias. Mas as realizações de Roger Bacon, um monge franciscano do século XIII, nessa direção, são talvez mais sólidas do que as de seu homônimo mais conhecido, Francis Bacon, dos séculos XVI e XVII. Com o progresso das ciências físicas nos séculos XVIII e XIX, a atenção dos lógicos concentrou-se quase exclusivamente na aplicação do método indutivo à descoberta e prova das leis da natureza; e, atualmente, seus fundamentos filosóficos estão dando origem a uma discussão considerável.
Texto traduzido do original em inglês da Enciclopédia Católica, por Isabel S. Lisboa.
FONTE:
Coffey, P. (1910). Induction. In The Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. Retrieved March 31, 2020 from New Advent: http://www.newadvent.org/cathen/07779a.htm